Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks, é uma autora, feminista e ativista social estadunidense
Mulheres negras moldando uma teoria feminista
Bell hooks
O feminismo nos Estados Unidos nunca emergiu das mulheres que são mais vitimados pela opressão machista, mulheres que são diariamente abatidas, mentalmente, fisicamente e espiritualmente - mulheres que são impotentes para mudar sua condição na vida. Eles são uma maioria silenciosa. A marca da sua vitimização é que elas aceitam sua sorte na vida, sem dúvida visível, sem protesto organizado, sem raiva ou fúria coletiva. The Feminine Mystique (A mística feminina), de Betty Friedan, ainda é anunciado como tendo preparado o caminho para o movimento feminista contemporâneo, foi escrito como se essas mulheres não existissem. A famosa frase de Friedan, "o problema que não tem nome," frequentemente citado para descrever a condição das mulheres nesta sociedade, na verdade, se refere à situação de um seleto grupo de mulheres brancas de nível universitário, classes média e superior, casadas, de donas de casa entediadas com lazer, com a casa, com filhos, com os produtos que compram, que queriam mais da vida. Friedan conclui seu primeiro capítulo, afirmando: "Não podemos mais ignorar esta voz dentro das mulheres que diz: “Eu quero algo mais do que o meu marido e meus filhos e minha casa”. Este "mais" ela definiu como carreira. Ela não discutiu quem seria chamada para cuidar dos filhos e manter a casa se mais mulheres como ela fossem libertadas do trabalho de casa e tivessem acesso igual aos homens brancos às profissões. Ela não falou das necessidades das mulheres sem homens, sem filhos, sem casas. Ela ignorou a existência de todas as mulheres não-brancas e mulheres brancas pobres. Ela não disse aos leitores se era mais satisfatório ser empregada, uma babá, um operário de fábrica, um funcionário, ou uma prostituta, do que ser uma dona de casa classe ociosa.
Ela citou sua situação e a situação das mulheres brancas como sinônimo de uma condição que afeta todas as mulheres americanas. Ao fazê-lo, ela desviou a atenção para longe de seu classismo, seu racismo, suas atitudes sexistas em relação às massas de mulheres americanas. No contexto do seu livro, Friedan deixa claro que as mulheres que ela via como vitimizadas pelo sexismo eram de nível universitário, brancas que foram obrigadas pelo condicionamento machista a permanecerem na casa. Ela afirma:
É urgente entender como a própria condição de ser uma dona de casa pode criar uma sensação de vazio, de não-existência, de serem nada nas mulheres. Há aspectos do papel dona de casa que tornam quase impossível para uma mulher adulta inteligente reter um sentido da identidade humana, o núcleo firme do eu ou de "eu" sem o qual um ser humano, homem ou mulher, não é verdadeiramente vivo. Para as mulheres de capacidade, na América hoje, estou convencida de que há algo sobre o estado de dona de casa que é perigoso.1
Problemas específicos e dilemas da classe ociosa de donas de casa brancas eram preocupações reais que mereciam consideração e mudança, mas não eram as preocupações políticas prementes de massas de mulheres. Massas de mulheres estavam preocupadas com a sobrevivência econômica, a discriminação étnica e racial, etc. Quando Friedan escreveu The Feminine Mystique, mais de um terço de todas as mulheres estavam na força de trabalho. Embora muitas mulheres desejassem ser donas de casa, apenas com tempo ocioso e dinheiro realmente poderiam moldar suas identidades no modelo da mística feminina. Eram mulheres que, nas palavras de Friedan, foram "contadas pelos pensadores mais avançados de nosso tempo para voltar e viver suas vidas como se fossem Noras, restritas à casa de boneca por preconceitos vitorianos." 2
Do início de sua escrita, parece que Friedan nunca perguntou se o sofrimento das donas de casa brancas de nível universitário era um ponto de referência adequado para a apreciação do impacto do sexismo e opressão machista na vida das mulheres na sociedade americana. Nem ela se moveu para além da sua própria experiência de vida para adquirir uma perspectiva ampliada na vida das mulheres nos Estados Unidos. Não digo isso para desacreditar seu trabalho. Resta uma discussão útil sobre o impacto da discriminação sexista sobre um grupo seleto de mulheres. Examinada a partir de uma perspectiva diferente, ele também pode ser visto como um estudo de caso de narcisismo, insensibilidade, sentimentalismo, e auto-indulgência que atinge o seu pico quando Friedan, em um capítulo intitulado "A desumanização progressiva", faz uma comparação entre os efeitos psicológicos da isolamento em donas de casa brancas e o impacto do confinamento sobre o auto-conceito de prisioneiros de campos de concentração nazistas.3
Friedan foi a principal formadora do pensamento feminista contemporâneo. Significativamente, a perspectiva unidimensional sobre a realidade das mulheres apresentada em seu livro se tornou uma característica marcante do movimento feminista contemporâneo. Como Friedan antes delas, as mulheres brancas que dominam o discurso feminista hoje raramente questionam se ou não a sua perspectiva sobre a realidade das mulheres é verdadeira para as experiências vividas de mulheres como um grupo coletivo. Nem estão conscientes da extesnão que suas perspectivas refletem vieses de raça e classe, embora tenha havido uma maior consciência dos vieses nos últimos anos. Racismo é abundante nos escritos de feministas brancas, reforçando a supremacia branca e negando a possibilidade de que as mulheres se ligarão politicamente através de fronteiras étnicas e raciais. Feministas do passado se recusaram a chamar a atenção e a atacar as hierarquias raciais suprimindo a ligação entre raça e classe. No entanto, a estrutura de classes na sociedade americana tem sido moldada pela política racial da supremacia branca; é apenas através da análise do racismo e sua função na sociedade capitalista que uma profunda compreensão das relações de classe pode surgir. A luta de classes está intrinsecamente ligada à luta para acabar com o racismo. Incitando as mulheres a explorar todas as implicações de classe em um ensaio inicial, "The last straw” (A última gota), Rita Mae Brown explicou:
Classe é muito mais do que a definição de Marx do relacionamento com os meios de produção. Classe envolve o seu comportamento, seus pressupostos básicos sobre a vida. Sua experiência (determinado por sua classe) valida esses pressupostos, como você é ensinado a se comportar, o que você espera de si mesmo e dos outros, o seu conceito de um futuro, como você compreender os problemas e resolvê-los, como você pensa, sente, age. São esses padrões de comportamento que as mulheres de classe média resistem a reconhecer, embora possam ser perfeitamente dispostas a aceitar classe em termos marxistas, um truque que ajuda a evitar realmente lidar com o comportamento de classe e mudar o comportamento nelas mesmas. São esses padrões de comportamento que devem ser reconhecidos, compreendidos e modificados.4
Mulheres brancas que dominam o discurso feminista, que para a maioria fazem e articulam a teoria feminista, têm pouco ou nenhum entendimento da supremacia branca como da política racial, do impacto psicológico da classe, de seu status político dentro de um estado capitalista, racista e sexista.
Esta falta de consciência que, por exemplo, levou Leah Fritz a escrever Dreamers and dealers, uma discussão do movimento de mulheres contemporâneo publicado em 1979:
O sofrimento das mulheres sob a tirania machista é um elo comum entre todas as mulheres, que transcende as particularidades das diferentes formas que a tirania toma. Sofrimento não pode ser medido e comparado de forma quantitativa. É o ócio forçado e vazio de uma mulher "rica", que a leva à loucura e/ou suicídio, maior ou menor do que o sofrimento de uma mulher pobre que mal sobrevive com bem-estar, mas mantém algum no seu espírito? Não há maneira de medir essa diferença, mas se estas duas mulheres questionam entre si sem a tela da classe patriarcal, elas podem encontrar um traço comum no fato de que ambos são oprimidos, ambas miseráveis.5
A declaração de Fritz é outro exemplo de pensamento positivo, bem como da mistificação consciente das divisões sociais entre as mulheres, que tem caracterizado muita expressão feminista. Embora seja evidente que muitas mulheres sofrem com a tirania machista, há poucos indícios de que este forja "um vínculo comum entre todas as mulheres". Há muita evidência comprovando a realidade de que a identidade de raça e classe cria diferenças na qualidade de vida, status social e estilo de vida que prevalecem sobre as experiências comuns de mulheres que raramente são transcendidas. Os motivos das mulheres brancas materialmente privilegiadas, educadas, mulheres com uma variedade de opções de carreira e estilos de vida disponíveis a elas devem ser questionados quando eles insistem que "o sofrimento não pode ser medido." Fritz de maneira alguma é a primeira feminista branca a fazer esta declaração. É uma declaração que eu nunca ouvi uma mulher pobre de qualquer raça fazer. Embora tenha ressalvas à crítica de Benjamim Barber ao movimento das mulheres, Liberating Feminism, eu concordo com sua afirmação:
O sofrimento não é necessariamente uma experiência fixa e universal que possa ser medida por um parâmetro único: ele está relacionado a situações, a necessidades e aspirações. Mas deve haver alguns parâmetros históricos e políticos para o uso do termo para que as prioridades políticas possam ser estabelecidas e as diferentes formas e graus de sofrimento possa ser dada mais atenção.6
Um princípio central do pensamento feminista moderno tem sido a afirmação de que "todas as mulheres são oprimidas". Esta afirmação implica que as mulheres compartilham um destino comum, que fatores como classe, raça, religião, preferência sexual, etc não criam uma diversidade de experiências que determina a medida em que o sexismo será uma força opressiva na vida de cada mulher. O sexismo como um sistema de dominação é institucionalizado, mas nunca determinou de forma absoluta o destino de todas as mulheres nesta sociedade. Ser oprimido significa a ausência de escolhas. É o principal ponto de contato entre oprimidos e opressores. Muitas mulheres nessa sociedade têm escolhas, (por mais inadequada que sejam), portanto, exploração e discriminação são palavras que descrevem coletivamente com mais precisão o grande número de mulheres nos Estados Unidos. Muitas mulheres não se engajam na resistência organizada contra o sexismo precisamente porque o sexismo não significou uma absoluta falta de opções. Elas podem saber que são discriminadas com base no sexo, mas não equiparam isso com a opressão. Sob o capitalismo, o patriarcado é estruturado de forma que o sexismo restringe o comportamento das mulheres em alguns reinos até mesmo quando a liberdade das limitações é permitida em outras esferas. A ausência de restrições extremas leva muitas mulheres a ignorarem as áreas em que são exploradas ou discriminadas, que pode até levá-las a imaginar que as mulheres não são oprimidas.
Há mulheres oprimidas nos Estados Unidos, e é apropriado e necessário que falemos contra tal opressão. A feminista francesa Christine Delphy assinala em seu ensaio “For a materialist feminism” que o uso do termo opressão é importante porque situa a luta feminista num quadro político radical:
O renascimento do feminismo coincidiu com o uso do termo "opressão". A ideologia dominante, isto é, o senso comum, o discurso cotidiano, não fala sobre a opressão, mas de uma "condição feminina". Ela remete a uma explicação naturalista: a uma restrição da natureza, a realidade exterior fora do alcance e não modificável pela ação humana. O termo "opressão", ao contrário, remete a uma escolha, uma explicação, uma situação que é política. "Opressão" e "opressão social" são, portanto, sinônimos ou ao invés opressão social é uma redundância: a noção de uma origem política, isto é, social, é parte integrante do conceito de opressão.7
Contudo, a ênfase feminista a uma “opressão comum” nos EUA foi menos uma estratégia para politização que uma apropriação por mulheres conservadoras e liberais de um vocabulário radical que mascarou a extensão na qual elas formaram o movimento para abordar e promover seus interesses de classe.
Embora o impulso para a unidade e empatia que informou a noção de opressão comum tenha sido dirigido para a construção de solidariedade, slogans como "organizar em torno de sua própria opressão" forneceu a desculpa necessária para muitas mulheres privilegiadas ignorarem as diferenças entre o seu estatuto social e o estado das massas de mulheres. Era uma marca de privilégios de raça e de classe, bem como a expressão da liberdade advinda dos muitos constrangimentos do sexismo sobre mulheres da classe trabalhadora que as mulheres de classe média brancas fossem capazes de fazer dos seus interesses o foco principal do movimento feminista e empregar uma retórica de comunalidade que fez a sua condição sinônimo de "opressão". Quem estava lá para exigir uma mudança no vocabulário? Que outro grupo de mulheres nos Estados Unidos tinham o mesmo acesso às universidades, editoras, meios de comunicação, dinheiro? Tivessem as mulheres negras de classe média começado um movimento em que marcassem a si mesmas "oprimidas", ninguém teria tomado a sério. Se tivessem estabelecido fóruns públicos e dado palestras sobre sua "opressão", teriam sido criticadas e atacadas por todos os lados. Este não foi o caso com as feministas burguesas brancas, elas poderiam apelar para um público grande de mulheres, como elas, que estavam ansiosas para mudar sua sorte na vida. Seu isolamento das mulheres de outra classe e grupos raciais não forneceu base imediata comparativa onde a testar as suas hipóteses de opressão comum.
Inicialmente, participantes radicais no movimento de mulheres exigiram que as mulheres penetrassem este isolamento e criassem um espaço para contato. Antologias como Liberation Now, Women's Liberation: Blueprint for the Future, Class and Feminism, Radical Feminism, e Sisterhood Is Powerful, todos publicados no início dos anos 1970, contêm artigos que tentaram abordar um público amplo de mulheres, um público que não era exclusivamente branco, de classe média, com nível universitário e adultas (há muitos artigos sobre adolescentes). Sookie Stambler articulou esse espírito radical em sua introdução a Women's Liberation: Blueprint for the Future:
Movimentos de Mulheres sempre foram ofuscados pela necessidade da mídia de criar celebridades e estrelas. Isso vai contra nossa filosofia básica. Não podemos nos relacionar com mulheres que elevam-se sobre nós com prestígio e fama. Nós não estamos lutando para o benefício de uma mulher ou de um grupo de mulheres. Estamos lidando com questões que dizem respeito a todas as mulheres.8
Estes sentimentos, partilhados por muitas feministas no início do movimento, não foram sustentados. Como mais e mais mulheres adquiriram prestígio, fama ou dinheiro a partir dos escritos feministas ou dos ganhos do movimento feminista pela igualdade no mercado de trabalho, o oportunismo individual prejudicou apelos para a luta coletiva. As mulheres que não se opunham ao patriarcado, ao capitalismo, ao classismo, ao racismo, rotulavam a si mesmas "feministas". Suas expectativas foram variadas. Mulheres privilegiadas queriam igualdade social com os homens de sua classe, algumas mulheres queriam salário igual para trabalho igual; outras queriam um estilo de vida alternativo. Muitas destas preocupações legítimas foram facilmente cooptadas pelo patriarcado capitalista dominante. A feminista francesa Antoinette Fouque argumenta:
As ações propostas pelos grupos feministas são espetaculares, provocantes. Mas a provocação só traz à tona um certo número de contradições sociais. Ela não revela contradições radicais na sociedade. As feministas alegam que não procuram igualdade com os homens, mas sua prática demonstra que o contrário é verdade. As feministas são uma vanguarda burguesa que mantém, de forma invertida, os valores dominantes. Inversão não facilita a passagem para um outro tipo de estrutura. Reformismo fica bem pra todo mundo! Ordem burguesa, o capitalismo, falocentrismo estão prontos para integrar assim como muitas feministas, caso seja necessário. Uma vez que estas mulheres estão se tornando homens, no final só vai significar alguns homens a mais. A diferença entre os sexos não é se alguém tem ou não tem um pênis, mas se é ou não parte integrante de uma economia fálica masculina.9
As feministas nos Estados Unidos estão cientes das contradições. Carol Ehrlich sinaliza em seu ensaio, ""The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Can It Be Saved?", que "o feminismo parece cada vez mais ter adquirido uma perspectiva cega, segura, não revolucionária" como o "radicalismo feminista perde terreno ao feminismo burguês ", sublinhando que "não podemos deixar isso continuar":
As mulheres precisam saber (e são cada vez mais impedidas de descobrir) que o feminismo não é sobre se vestir para o sucesso, ou se tornar executiva de uma empresa, ou ganhar um cargo eletivo, não é ser capaz de conciliar casamento e carreira e tirar férias de esqui e gastar enormes quantidades de tempo com seu marido e dois filhos adoráveis, porque você tem uma empregada doméstica que torna tudo isso possível para você, mas quem não tem tempo ou dinheiro para fazer isso por si mesma, não está abrindo Banco da Mulher, ou gastando um fim de semana em um workshop caro que garante ensiná-la a tornar-se assertiva (mas não agressiva); não é mais enfaticamente sobre como se tornar uma detetive policial ou agente da CIA ou dos Fuzileiros Navais em geral.
Mas se estas imagens distorcidas do feminismo têm mais realidade do que o nosso fazer, é em parte culpa nossa. Nós não temos trabalhado tão duro quanto deveríamos para proporcionar claras e significativas análises alternativas que se relacionam com a vida das pessoas, e proporcionando grupos ativos, grupos acessíveis em que trabalham.10
Não é por acaso que a luta feminista foi tão facilmente cooptada para servir aos interesses das feministas liberais e conservadoras desde que o feminismo nos Estados Unidos tem sido até agora uma ideologia burguesa. Zillah Eisenstein discute as raízes liberais do feminismo norte americano em The Radical Future of Liberal Feminism, explicando na introdução:
Uma das grandes contribuições que podem ser encontradas neste estudo é o papel da ideologia do individualismo liberal na construção da teoria feminista. Feministas de hoje nem discutem uma teoria da individualidade ou inconscientemente adotam a ideologia competitiva, atomística do individualismo liberal. Há muita confusão sobre este assunto na teoria feminista que discutimos aqui. Até que uma diferenciação consciente seja feita entre uma teoria da individualidade que reconhece a importância do indivíduo dentro da coletividade social e da ideologia do individualismo que pressupõe uma visão competitiva do indivíduo, não haverá um relato completo do que uma teoria feminista da libertação deva observar na nossa sociedade ocidental.11
A ideologia do individualismo "competitivo, liberal atomista" tem permeado o pensamento feminista a tal ponto que enfraquece o radicalismo potencial da luta feminista. A usurpação do feminismo por mulheres burguesas para sustentar seus interesses de classe tem sido de forma muito grave justificada pela teoria feminista como até agora tem sido concebida. (Por exemplo, a ideologia da "opressão comum".) Qualquer movimento de resistência à cooptação da luta feminista deve começar apresentando uma nova teoria de diferentes perspectivas feministas que não seja informado pela ideologia do individualismo liberal.
As práticas de exclusão das mulheres que dominam o discurso feminista tornaram praticamente impossível novas e variadas teorias surgirem. O feminismo tem sua linha partidária e mulheres que sentem a necessidade de uma estratégia diferente, uma fundação diferente, muitas vezes se encontram marginalizadas e silenciadas. Críticas ou alternativas à idéias feministas estabelecidas não são incentivadas, por exemplo, nas recentes controvérsias sobre a expansão das discussões feministas da sexualidade. No entanto, grupos de mulheres que se sentem excluídos do discurso e práxis feminista podem fazer um lugar para si mesmos só se primeiro criarem, através de críticas, uma consciência dos fatores que os alienam. Muitas mulheres brancas individualmente encontraram no movimento das mulheres de uma solução libertadora para dilemas pessoais. Tendo sido beneficiadas diretamente pelo movimento, elas estão menos inclinadas a criticá-lo ou se engajar em rigoroso exame de sua estrutura do que aquelas que sentem que não teve um impacto revolucionário em suas vidas ou as vidas de massas de mulheres em nossa sociedade. Mulheres não-brancas que se sentem fazendo parte da estrutura atual do movimento feminista (mesmo que elas possam formar grupos autônomos) parecem também sentir que suas definições da linha partidária, seja na questão do feminismo negro ou em outras questões, é o único discurso legítimo. Ao invés de incentivar uma diversidade de vozes, o diálogo crítico e a polêmica, elas, como algumas mulheres brancas, procuram sufocar a dissidência. Como ativistas e escritoras cuja obra é amplamente conhecida, eaes agem como se elas fossem mais capazes de julgar se as vozes de outras mulheres devem ser ouvidas. Susan Griffin adverte contra esta tendência geral para o dogmatismo em seu ensaio, "The Way of All Ideologia":
... quando uma teoria é transformada em uma ideologia, ela começa a destruir o eu e o auto-conhecimento. Originalmente nascida de sentimento, ele finge flutuar acima e em torno do sentimento. Acima de sensação. Ele organiza a experiência de acordo com si mesma, sem tocar experiência. Em virtude do próprio ser, que é suposto saber. Invocar o nome desta ideologia é conferir a veracidade. Ninguém pode dizer nada de novo. A experiência deixa de surpreendê-la, informá-la, transformá-la. Ela está irritada por qualquer detalhe que não se encaixe em sua visão de mundo. Começou como um grito contra a negação da verdade, agora ela nega qualquer verdade que não se encaixe em seu esquema. Iniciada como uma maneira de restaurar o senso de realidade, agora ela tenta disciplinar as pessoas reais, para refazer os seres naturais à sua própria imagem. Tudo o que ela falha em explicar é registrado como seu inimigo. Iniciada como uma teoria da libertação, ela é ameaçada por novas teorias da libertação; ela constrói uma prisão para a mente.12
Nós resistimos à dominação hegemônica do pensamento feminista, insistindo que é uma teoria em formação que deve, necessariamente, criticar, questionar, re-examinar, e explorar novas possibilidades. Minha crítica persistente foi informada pela minha condição de membro de um grupo oprimido, a experiência de exploração e discriminação sexista, e no sentido de que a análise feminista dominante não tem sido a força moldando a minha consciência feminista. Isto é verdade para muitas mulheres. Há mulheres brancas que nunca tinha considerado resistir à dominação masculina até que o movimento feminista criou uma consciência de que poderiam e deveriam. Minha consciência de luta feminista foi estimulada pela circunstância social. Crescer no Sul, preta, dominada pelo pai, da classe trabalhadora doméstica, eu experimentei (como fez minha mãe, minhas irmãs e meu irmão) variados graus de tirania patriarcal e isto me deixou com raiva - ele fez a todos nós raivosos. A raiva levou-me a questionar a política de dominação masculina e me permitiu resistir à socialização machista. Freqüentemente, as feministas brancas agem como se as mulheres negras não conhecessem a opressão machista existente até que elas expressaram o sentimento feminista. Elas acreditam que estão oferecendo às mulheres negras com "a" análise e "o" programa para a libertação. Elas não entendem, não podem sequer imaginar, que as mulheres negras, assim como outros grupos de mulheres que vivem diariamente em situações opressivas, muitas vezes adquirem uma consciência política patriarcal de sua experiência vivida, assim como desenvolvem estratégias de resistência (mesmo que elas possam não resistir de uma forma sustentada e organizada).
Essas mulheres negras observaram o enfoque feminista branco sobre a tirania do homem e a opressão das mulheres como se fosse uma revelação "nova" e se sentiram como tal foco teve pouco impacto sobre suas vidas. Para elas era apenas mais uma indicação das condições de vida privilegiadas de mulheres de classe média e alta brancas que elas precisam de uma teoria para informá-las que eles eram "oprimidas". A implicação é que as pessoas que são verdadeiramente oprimidas sabem até mesmo que elas não podem ser engajadas na resistência organizada ou são incapazes de articular de forma escrita a natureza de sua opressão. Essas mulheres negras não viram nada libertador em linha parciais de análises da opressão das mulheres. Nem o fato de que as mulheres negras não têm organizado coletivamente em grandes números em torno das questões de "feminismo" (muitos de nós não sabe nem usar o termo), nem o fato de que não tiveram acesso à máquina do poder que nos permitiria compartilhar nossas análises ou teorias sobre o gênero com o público norte-americano negam a sua presença em nossas vidas ou nos colocam em uma posição de dependência em relação a essas feministas brancas e não-brancas dirigidas a um público maior.
O entendimento que eu tinha aos 13 anos da política patriarcal criou em mim expectativas do movimento feminista que eram muito diferentes das mulheres jovens, de classe média, brancas. Quando entrei na classe minhas primeiras aulas de estudos de mulheres na Universidade de Stanford na década de 1970, as mulheres brancas foram deleitando-se com a alegria de estarmos juntas - para elas era uma ocasião importante, memorável. Eu não tinha conhecido uma vida onde as mulheres não tinham sido juntas, onde as mulheres não tinha ajudado, protegido e amado uma a outra profundamente. Eu não sabia que as mulheres brancas eram ignorantes do impacto da raça e classe em seu estatuto social e consciência (as mulheres brancas do Sul têm frequentemente uma perspectiva mais realista sobre o racismo e classismo que as mulheres brancas em outras áreas dos Estados Unidos). Eu não simpatizei com seus pares brancos que afirmavam que eu não poderia esperar que elas tivessem conhecimento ou compreendessem as experiências de vida de mulheres negras. Apesar de minha formação (vivendo em comunidades racialmente segregadas) eu sabia sobre as vidas de mulheres brancas e certamente não as mulheres não brancas moravam em nosso bairro, participavam de nossas escolas, ou trabalharam em nossas casas.
Quando eu participava de grupos feministas, descobri que as mulheres brancas adotavam uma atitude condescendente em relação a mim e outras participantes não-brancas. A condescendência dirigida às mulheres negras era um dos meios que empregaram para nos lembrar que o movimento das mulheres era "delas" - que nós podíamos participar porque elas permitiam, até mesmo incentivavam; afinal de contas, nós éramos necessárias para legitimar o processo. Elas não nos vêem como iguais. Elas não nos tratam como iguais. E embora elas esperassem que prestássemos contas em primeira mão da experiência negra, elas sentiram que era o seu papel decidir se essas experiências eram autênticas. Freqüentemente, com mulheres negras nível universitário (mesmo aquelas pobres e oriundas da classe trabalhadora) eram descartadas como meras imitadores. Nossa presença em atividades do movimento não contava, como as mulheres brancas estavam convencidas de que a negritude "real" significava falar o dialeto dos pobres negros, ser inculto, das ruas, e uma variedade de outros estereótipos. Se nos atrevessemos a criticar o movimento ou a assumir a responsabilidade de remodelar idéias feministas e introduzir novas ideias, as nossas vozes seriam desligadas, destituidas, silenciadas. Nós poderíamos ser ouvidas somente se nossas demonstrações ecoassem os sentimentos do discurso dominante.13
Raramente se escreve sobre as tentativas de feministas brancas silenciarem as mulheres negras. Frequentemente elas tiveram lugar em salas de conferência, salas de aula, ou a privacidade de salas de estar acolhedoras, onde uma mulher negra solitária enfrenta a hostilidade racista de um grupo de mulheres brancas. Desde que o tempo do movimento de libertação das mulheres começou, algumas mulheres negras foram para grupos. Muitas nunca mais voltaram depois de um primeiro encontro. Anita Cornwall está correta em "Three for the Price of One: Notes from a Gay Black Feminist," quando ela afirma, "... infelizmente, o medo de se deparar com o racismo parece ser uma das principais razões que muitas mulheres negras se recusam a ingressar no movimento das mulheres. "13 O foco recente sobre a questão do racismo tem gerado discurso, mas teve pouco impacto sobre o comportamento das feministas brancas em relação às mulheres negras. Muitas vezes, as mulheres brancas que estão ocupadas publicando artigos e livros sobre "racismo esquecido" continuam a ser paternalistas e condescendente quando elas se relacionam com mulheres negras. Isto não é surpreendente, dado que freqüentemente o discurso visa apenas a direção de uma audiência branca e o foco exclusivamente na mudança de atitudes em vez de enfrentar o racismo num contexto histórico e político. Fazem-nos os "objetos" de seu discurso privilegiado na raça. Como "objetos", continuamos desiguais, inferiores. Mesmo que elas possam estar sinceramente preocupadas com o racismo, a sua metodologia sugere que elas ainda não estão livre do tipo de paternalismo endêmico à ideologia da supremacia branca. Algumas dessas mulheres se colocam na posição de "autoridades" que devem mediar a comunicação entre as mulheres brancas racistas (naturalmente eles se vêem como tendo chegado a um acordo com seu racismo) e mulheres negras furiosas que elas acreditam que são incapazes de discurso racional. Claro, o sistema de racismo, classismo e elitismo educacional permanecem intactos, se mantiverem suas posições de autoridade.
Em 1981, me matriculei em uma classe de pós-graduação em teoria feminista, onde nos foi dada uma lista de leitura que tinha escritos por mulheres e homens brancos, um homem negro, mas nenhum material por ou sobre mulheres negras, nativas americanas, hispânicas ou asiáticas. Quando critiquei esse descuido, as mulheres brancas dirigiram uma raiva e hostilidade para mim que era tão intensa que eu achava difícil participar da aula. Quando eu sugeri que o propósito dessa raiva coletiva era criar uma atmosfera na qual seria psicologicamente insuportável para mim falar nas discussões em aula ou mesmo freqüentar as aulas, foi-me dito que eles não estavam com raiva. Eu era a única que estava com raiva. Semanas após a aula terminou, eu recebi uma carta aberta de uma aluna branco reconhecendo sua raiva e expressando arrependimento por seus ataques. Ela escreveu:
Eu não conhecia você. Você é negra. Na aula, depois de um tempo eu percebi que eu seria sempre a única a responder a tudo o que você disse. E, geralmente, a contradizia. Não que o argumento fosse sempre sobre o racismo por qualquer meio. Mas acho que a lógica oculta era que se eu pudesse provar que está errada sobre uma coisa, então você pode não estar certa sobre qualquer coisa.
E em outro parágrafo:
Um dia eu disse em sala de aula que havia algumas pessoas menos aprisionadas do que outras pela imagem do mundo de Platão. Eu disse que achava que nós, após quinze anos de educação, cortesia da classe dominante, poderiamos ser mais aprisionadas do que outros que não tinham tido um começo de vida tão perto do coração do monstro. Minha colega de classe, uma amiga próxima, irmã, colega, não tem falado comigo desde então. Eu acho que a possibilidade de não sermos as melhores porta-vozes de todas as mulheres a fez temer por sua auto-estima e sua tese de doutorado
Muitas vezes, em situações em que as feministas brancas atacaram agressivamente mulheres negras, elas se viam como quem estava sob ataque, que eram as vítimas. Durante uma acalorada discussão com um outra estudante branca em um grupo racialmente misto de mulheres que eu tinha organizado, foi-me dito que ela tinha ouvido falar como eu tinha "apagado" pessoas da classe teoria feminista, que ela tinha medo de ser "eliminada" também. Lembrei-lhe que eu era uma pessoa falando para um grande grupo raivoso, pessoas agressivas; eu estava quase dominando a situação. Fui eu quem deixou a classe em lágrimas, e não qualquer das pessoas que eu tinha supostamente "dizimado".
Estereótipos racistas da mulher negra forte e super-humana são mitos operatórios nas mentes de muitas mulheres brancas, o que lhes permite ignorar a medida em que as mulheres negras são susceptíveis de ser vítimas nesta sociedade e o papel que as mulheres brancas podem desempenhar na manutenção e perpetuação desta vitimização. No trabalho autobiográfico de Lillian Hellman Pentimento, ela escreve: "Toda a minha vida, começando no momento do nascimento, recebi ordens de mulheres negras, querendo-as e representando-as, sendo supersticiosa das poucas vezes em que desobedeci". As mulheres negras que Hellman descreve trabalharam em sua casa como servas da família e seu status nunca foi o de uma igual. Mesmo como uma criança, ela sempre estava na posição dominante quando elas questionaram, aconselhavam, ou guiaram; elas eram livres para exercer esses direitos, porque ela ou outra figura de autoridade branca permitiu. Hellman coloca o poder nas mãos dessas mulheres negras ao invés de reconhecer seu próprio poder sobre elas, daí ela mistifica a verdadeira natureza de seu relacionamento. Ao projetar para as mulheres negras um poder mítico e força, as mulheres brancas, tanto promovem uma falsa imagem de si mesmas como impotentes, passivas, vítimas e desviam a atenção da sua agressividade, do seu poder, (porém limitadas em um estado de supremacia branca, machista) sua vontade de dominar e controlar os outros. Estes aspectos não reconhecidos do status social de muitas mulheres brancas as impediu de transcender o racismo e limitou o alcance de sua compreensão da situação geral das mulheres social nos Estados Unidos.
Feministas privilegiadas têm sido largamente incapazes de falar a, com, e por diversos grupos de mulheres porque elas não entendem plenamente a inter-relação de sexo, raça e opressão de classe ou se recusam a levar seriamente esta inter-relação. Análises feministas de muitas mulheres tendem a se concentrar exclusivamente em sexo e não fornecem uma base sólida sobre a qual construir a teoria feminista. Eles refletem a tendência dominante nas mentes patriarcais do Ocidente para mistificar a realidade da mulher, insistindo que o gênero é o único determinante do destino da mulher. Certamente ela tem sido mais fácil para as mulheres que não experimentam a raça ou a opressão de classe para se concentrar exclusivamente no sexo. Embora as feministas socialistas focalizem classe e gênero, elas tendem a negar a raça ou fazem questão de reconhecer que a raça é importante e, em seguida, oferecem uma análise em que a raça não é considerada.
Como grupo, as mulheres negras estão em uma posição incomum nesta sociedade, não só estamos coletivamente na parte inferior da escada profissional, mas o nosso estatuto social global é menor do que o de qualquer outro grupo. Ocupando tal posição, carregamos o peso da opressão machista, racista e classista. Ao mesmo tempo, somos o grupo que não foi socializado para assumir o papel de explorador/opressor em que nós somos "outros" institucionalizados não permitidos a explorar ou oprimir. (Crianças não representam um outro institucionalizado, embora possam ser oprimidos pelos pais). Mulheres brancas e homens negros têm dois caminhos. Eles podem agir como opressor ou ser oprimido. Os homens negros podem ser vítimas de racismo, sexismo, mas lhes permite agir como exploradores e opressores das mulheres. As mulheres brancas podem ser vitimadas pelo sexismo, o racismo, mas lhes permite agir como exploradores e opressores do povo negro. Ambos os grupos têm levado os movimentos de libertação que favorecem os seus interesses e apoiam a contínua opressão de outros grupos. O sexismo masculino negro minou a luta para erradicar o racismo, assim como o racismo feminino branco mina a luta feminista. Enquanto estes dois grupos ou qualquer grupo defina libertação como alcançar a igualdade social aos homens brancos da classe dominante, eles têm interesse na continuação da exploração e opressão de outros.
As mulheres negras com o “outro” não institucionalizado que pode discriminar, explorar ou oprimir muitas vezes têm uma experiência vivida que desafia diretamente a estrutura social classista, sexista, racista dominante e sua ideologia concomitante. Esta experiência vivida pode moldar a nossa consciência de tal forma que nossa visão de mundo difere daqueles que têm um grau de privilégio (entretanto, relativa dentro do sistema existente). É essencial para a luta feminista continuada que as mulheres negras reconheçam o ponto de vista especial que nossa marginalidade nos dá e fazer uso dessa perspectiva para criticar a hegemonia racista, classista, e sexista dominante, bem como para imaginar e criar uma contra-hegemonia. Eu estou sugerindo que temos um papel central a desempenhar na construção da teoria feminista e uma contribuição a oferecer que é única e valiosa. A formação de uma teoria e práxis libertadora feminista é uma responsabilidade coletiva que deve ser compartilhada. Apesar de criticar aspectos do movimento feminista como o conhecemos até agora, uma crítica que às vezes é dura e implacável, eu não tento diminuir a luta feminista, mas para enriquecê-la, para compartilhar o trabalho de fazer uma ideologia libertadora e um movimento libertador.
Notes:
1. Betty Friedan, The Feminine Mystique, p. 15.
2. Although The Feminine Mystique has been criticized and even attacked from various fronts I call attention to it again because certain biased premises about the nature of woman's social status put forth initially in this text continue to shape the tenor and direction of feminist movement.
3. Friedan, "Progressive Dehumanization", p. 305.
4. Rita Mae Brown, "The Last Straw," in Class and Feminism, p. 15.
5. Leah Fritz, Dreamers and Dealers, p. 51.
6. Benjamin Barber, Liberating Feminism, p. 30.
7. Christine Delphy, "For a Materialist Feminism," p. 30. A fuller discussion of Christine Delphy's perspective may be found in the collected essays of her work Close to Home.
8. Sookie Stambler, Women's Liberation: Blueprint for the Future, p. 9.
9. Antoinette Fouque, "Warnings," in New French Feminists, pp. 117-118.
10. Carol Ehrlich, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Can it Be Saved?,"p. 130.
11. Zillah Eisenstein, The Radical Future of Liberal Feminism, p. 5.
12. Susan Griffin, "The Way of All Ideology," Signs, Spring 1982, p. 648.
13. Anita Cornwell, "Three for the Price of One: Notes from a Gay Black Feminist," in Lavender Culture, p.471.
Bibliography
Angelou, Maya. "Interview," in Black Women Writers at Work. Ed. Claudia Tate. New York: Continuum Publishing, 1983.
Badinter, Elisabeth. Mother Love. New York: Macmillan, 1981.
Barber, Benjamin. Liberating Feminism. New York: Dell Publishing Company, 1975.
Berg, Barbara. The Remembered Gate: Origins of American Feminism. New York: Oxford University Press, 1979.
Bird, Caroline. The Two-Paycheck Marriage. New York: Rocket Books, 1979.
Boggs, Grace Lee and Boggs, James. Revolution and Evolution in the Twentieth Century. New York: Monthly Review Press, 1974.
Bunch, Charlotte. "Feminism and Education: Not By Degrees." Quest, Vol. V, No. I (Summer 1979), pp. 1-7.
Brown, Rita Mae. "The Last Straw," in Class and Feminism. Ed. Charlotte Bunch and Nancy Myron. Baltimore: Diana Press, 1974, pp. 14-23.
Cagan, Leslie. "Talking Disarmament," in South End Press News, Vol. 2, No. 2 (Spring/Summer 1983), pp. 1-7.
Chesler, Phyllis and Goodman, Emily Jane. Women, Money, and Power. New York: William Morrow and Company, 1976.
Coles, Robert and Jane. Women of Crisis. New York: Dell Publishing Company, 1978.
Daly, Mary. Beyond God the Father. Boston: Beacon Press, 1973.
Delphy, Christine. "Towards a Material Feminism," in New French Feminisms, Eds. Elaine Marks and Isabelle De Courtwron. Amherst: University of Massachusetts Press,1980, pp. 197-8.
Dimen, Muriel. "Notes for the Reconstruction of Sexuality," in Social Text, Vol. 11, No. 3 (Fall 1982), pp. 22-30.
Dixon, Marlene. Women in Class Struggle. San Francisco: Synthesis Publications, 1980.
Ehrenreich, Barbara and Stallard, Karin. "The Nouveau Poor," in Ms., August 1983, pp. 217-224.
Ehrlich, Carol. "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism," in Women and Revolution, Ed. Lydia Sargent. Boston: South End Press, 1981, pp. 109-133.
Eisenstein, Zillah. The Radical Future of Liberal Feminism. New York: Longman, 1981.
Fanon, Franz. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 1967.
Fouque, Antoinette. "Warnings," in New French Feminisms. Eds. Elaine Marks and Isabelle De Courtwron. Amherst: University of Massachusetts Press, 1980, pp.117-8.
Freidan, Betty. The Feminine Mystique. New York: W.W. Norton Company, 1963.
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Seabury,1970.
Freeman, Jo. The Politics of Women. New York: David McKay Company, 1975.
Fritz, Leah. Dreamers and Dealers: An Intimate Appraisal of the Women's Movement. Boston: Beacon Press,1979.
Goodman, Ellen. "The Turmoil of Teenage Sexuality," in Ms., Vol. XII, No. 1 (July 1983), pp. 37-41.
Gornick, Vivian. Essays in Feminism. New York: Harper and Row, 1978.
Greene, Bob. "Sisters Under the Skin," in San Francisco Examiner (San Francisco), May 15,1983.
Gross, Jeanne. "Feminist Ethics from a Marxist Perspective," in Radical Religion, Vol. 111, No. 2 (1977), pp. 52-6.
Hartsock, Nancy. "Political Change: Two Perspectives on Power," in Building Feminist Theory: Essays from Quest. New York: Longman, 1981, pp. 3-19.
Hanisch, Carol. "Men's Liberation," in Feminist Revolution, Redstockings, 1975, pp. 60-3.
Harding, Sandra. "Feminism: Reform or Revolution," in Women and Philosophy. Eds. Carol Gould and Mary Wartofsky. New York: G. P. Putnam, 1976, pp. 271-84.
Heath, Stephen. The Sexual Fix. London: Macmillan,1982.
Hodge, John. Cultural Bases of Racism and Group Oppression. Berkeley: Time Readers Press, 1975.
Janeway, Elizabeth. Cross Sections. New York: William Morrow, 1982.
----. Powers of the Weak. New York: Morrow Quill, 1981.
Joseph, Gloria. "The Incompatible Menage À Trois: Marxism, Feminism, and Racism." in Women and Revolution. Ed. Lydia Sargent. Boston: South End Press, 1981.
Kennedy, Florynce. "Institutionalized Oppression vs. the Female," in Sisterhood Is Powerful. Ed. Robin Morgan. New York: Vintage Books, 1970, pp. 438-46.
Koen, Susan; Swain, Nina; and Friends, Eds. Ain't No Where We Can Run: Handbook for Women on the Nuclear Mentality. Norwich, VT: WAND, 1980, p. 2.
Kollias, Karen. "Class Realities: Create a New Power Base," in Quest, Vol. 1, No. 3 (Winter 1975), pp. 28-43.
Leon, Barbara. "Separate to Integrate," in Feminist Revolution. Redstockings, 1975, pp. 139-44.
Markovic, Mihailo. "Women's Liberation and Human Emancipation," in Women and Philosophy. Eds. Carol Gould and Mary Wartofsky. New York: G. P. Putnam, 1976,pp. 145-67.
McCandless, Cathy. "Some Thoughts About Racism, Classism, and Separatism," in Top Ranking. Eds. Joan Gibbs and Sara Bennett. New York: February Third Press,1979, pp. 105-15.
Morrison, Toni. "Cinderella's Stepsisters," in Ms., September 1979, pp. 41-2.
--"What the Black Woman Thinks About Women's Lib," in The New York Times Magazine, August 22,1971.
Patrick, Jane. "A Special Report on Love, Violence, and the Single Woman," in Mademoiselle, October 1982, pp. 188, 189, 240, 242.
Pearson, Ethel Spector. "Sexuality as the Mainstay of Identity: Psychoanalytic Perspectives," in Women: Sex and Sexuality, Ed. Catherine Simpson. Chicago: University of Chicago Press, 1980, pp. 36-61.
Rich, Adrienne. Of Woman Born. New York: W. W. Norton, 1976.
Ruddick, Sara. "Maternal Thinking," in Rethinking the Family: Some Feminist Questions. Ed. Barrie Thorne with Marilyn Yolom. New York: Longman, 1982, pp. 76-93.
Saffioti, Helieth I.B. Women in Class Society. New York: Montly Review Press, 1978.
Schechter, Susan. Women and Male Violence: The Visions and Struggles of the Battered Women's Movement. Boston: South End Press, 1982.
Schoonmaker, Mary Ellen. "Bringing Up Baby," in In These Times, September 7, 1983, pp. 12, 13, 22.
Smith, Barbara. "Notes for Yet Another Paper on Black Feminism, Or Will the Real Enemy Please Stand Up," in Conditions: Five, Vol. 11, No. 2 (Autumn 1979), pp. 123-127.
Snodgrass, Jon, Ed. A Book of Readings for Men Against Sexism. Albion: Times Change Press, 1977.
Spelmann, Elizabeth. "Theories of race and Gender: The Erasure of Black Women," in Quest, Vol. V, No. 4, pp. 36-62.
Stambler, Sookie. Women's Liberation: Blueprint for the Future. New York: Ace Books, 1970.
Thorne, Barrie. "Feminist Re-thinking of the Family: An Overview," in Re-thinking the Family: Some Feminist Questions, Ed. Barrie Thorne with Marilyn Yolom. New York: Longman, 1982.
Vasquez, Carmen. "Towards a Revolutionary Ethics," in Coming Up, January 1983, p. 11.
Walton, Patty. "The Culture in Our Blood," in Women: A Journal of Liberation, Vol. VIII, No. I (January 1982), pp.43-5.
Ware, Cellestine. Woman Power: The Movement for Women's Liberation. New York: Tower Publications, 1970.
Willis, Ellen. "Towards a Feminist Sexual Revolution," in Social Text, Vol. 11, No. 3 (Fall 1982), pp. 3-21.
Women and the New World. Detroit: Advocators, 1976.
hooks, bell, "Black Women Shaping Feminist Thought". In:
Feminist Theory: From the Margin to Center. (Boston:
South End Press, 1984), p. 1-16.
Copyright © 1984
South End Press, all rights reserved. Reprinted with kind permission from the copyright holder. No part of this text may be reprinted or disseminated beyond personal use without permission from the copyright holder
Traduzido por Zelinda Barros.

 Príncipe Naveen e Tiana como sapos
Príncipe Naveen e Tiana como sapos


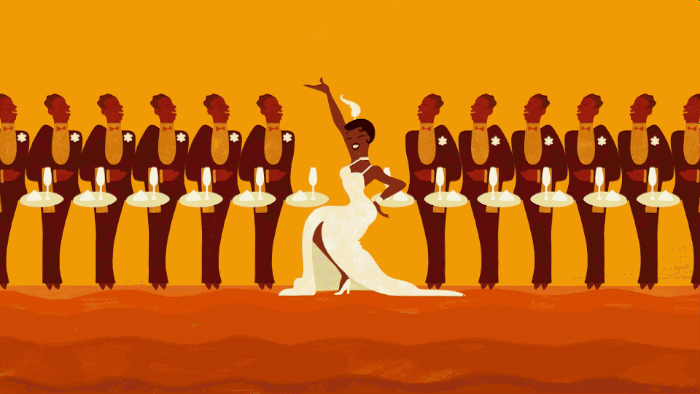

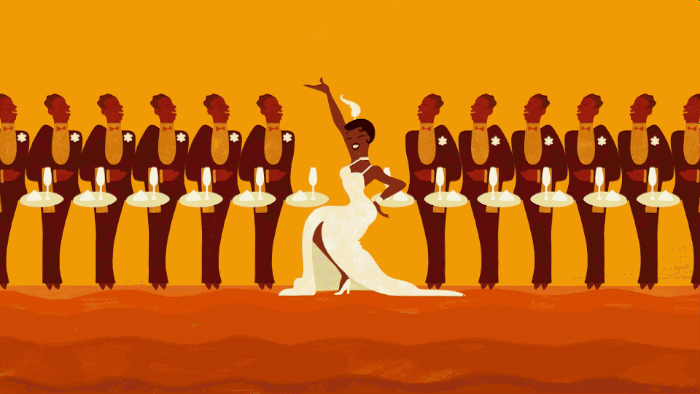
 Louis
Louis
 Mama Odie
Mama Odie
 Louis
Louis
 Mama Odie
Mama Odie
